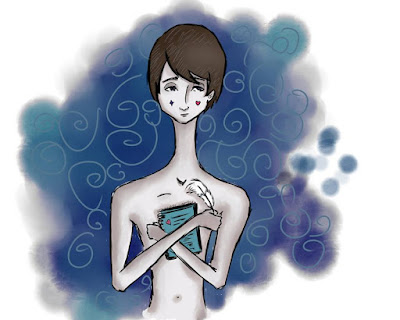Pão, água e luz deviam
ser tudo o que precisamos. Sobreviver não basta. Viver nos leva ao ponto. Você
não sorriria de forma tão simplória para mim depois de sangrar meu coração com
suas unhas grandes pintadas de vermelho. Eu devia ser o atual e não o nem outro.
Uso palavras repetidas. Que palavras
nunca são ditas? “Aquela cartinha de amor foi o ponto”, diz-me, de forma
irônica, meu amigo Lauro. “Não acho que isso tenha sido o fator preponderante”,
retruco. “Pare de falar difícil”, ele. E acrescenta: “Você foi burro e
artificial em seu procedimento, para não dizer, falso.” Não me importa mais.
Não digo não gostar, mas não ligo tanto para você.
Neste momento, estou
sobre um morro de uns vinte e tantos metros, uma altura considerável, leve
tentação de mergulho. É um dia atípico. O que rola nos ares pode ser chamado de
cerração ou de neblina? De longe será? Do Arraial do Tijuco, devaneio. Estrada
de Curvelo até Diamantina. Vejo carros, caminhões, motos, ônibus, bicicletas,
pedestres, cachorros, vacas, cavalos, lá, no asfalto. Dos ônibus, em
particular, você costumava falar comigo, quando éramos pouco mais que criança.
Ria dos meninos da vizinhança, com empolgação, ao ouvi-los dizer que os carros
em movimento contrários uns aos outros eram deles. “Corre, Combe! Corre!” “Afunda, Mercedes!”
Eu lhe dizia que o ônibus da Gontijo era
o mais bonito porque o nome se assemelhava, na escrita, ao de duas pessoas
junto: Gontijo + ou – Contigo.
E tocava com polidez em
seu rosto com as costas da mão direita para sentir minha mão tremer e seu rosto
mudar de cor. “Pássaro Verde! É o
ônibus mais bonito. Asas da liberdade + o verde da esperança. Mais. Sem menos.”
Você declamava tais frases como se se apossasse de um poema condoreiro de
Castro Alves. Agora, eu acusaria sua lógica de démodé, mas teria mais astúcia,
ao expressar meus argumentos. Liberdade? Mesmo o mais estulto dos poetas sabe
que ela só existe se nos encontrarmos presos a quem amamos. Pior: mesmo não
sendo amados. Esperança? Na maioria das vezes ela frustra mesmo os passos que
chegam longe e as mãos que quase se apoderam do infinito. Tive tal reflexão,
sentado numa pedra grande, à sombra do Ingazeiro. Você já não morava aqui.
“Cartinha de amor? Ah!
Ah! Ah! Em pleno fim de Século XX? Voltemos ao ponto.” Lauro se fartava de rir
de mim. Eu gostava de ler, mas ainda não me havia aventurado no mundo da
escrita. Você sabe. Naquela época em que ficou com cabeça e corpo de mulher
madura. A pequena biblioteca da cidade quase todos os dias recebia minha
presença. À época, não tinha norteamento literário. Lia mais os livros que
Beatriz, a bibliotecária, de óculos, uma pose de intelectual, me indicava. Eu
que lia os gêneros Western de meu
irmão mais velho, as HQs, que
chamávamos de gibis. Ante a iminência de praticamente nada para ler, pegava,
escondido, romances açucarados de Sabrina
ou de Júlia que minha irmã guardava
numa caixa sobre um guarda-roupa. Dos últimos, devo ter adquirido a mania de me
apaixonar fácil.
Com você foi diferente?
Claro, para conquistar seu universo, eu tinha de dizer assim. “Você devia ter
chegado nela, dito na lata. Mulher gosta é de atitude.” Falas de Lauro, aos
risos e tragadas de cigarro Arizona e
copos de Brahma. Falar é fácil.
Escrever, não.
Muito tempo eu ficara
fora da escola, estava com uns dezenove anos. Prestes a tirar o Primeiro Grau.
Vira que você já estava para tirar o Segundo, um ano mais nova que eu. A gente
trabalhava na Fábrica de Tecidos Amália
Maria. Na fiação. Seção quente. Com muita poeira e pó de algodão. Fazia
muito barulho ali. Eu com vontade de lhe falar. Mas havia o Anselmo. Eu
percebia a proximidade de vocês. “Não quero atrapalhar vocês dois”, eu lhe
disse um dia depois de esboçar uma declaração.
Numa das muitas vezes
em que não tinha nada para ler, achei no meio dos livros de minha irmã um, com
o título As Mais Lindas Cartas de Amor.
A particularidade desse livro é que todos os textos começam com os advérbios de
lugar, datas, plausíveis em toda carta, mais a frase: Meu inesquecível amor... Entre as cartas, vi uma em que o eu lírico se evidencia na figura de um
rapaz pobre, que, por sua vez, vê na sua paixão clássica Cinderela na janela, uma menina-moça à espera do amor idealizado
(Um príncipe do cavalo branco? Do carro branco? Da motocicleta branca? Da
bicicleta branca?)
Anselmo tinha uma
bicicleta branca de dez marchas que fazia o maior uau no coração de muitas
meninas de Curvelo à época. Agravante: era ciclista de primeira. “Ah! Ah! Ah!” o Lauro. “Você podia ao menos
ter criado a carta, poeta, em vez de ter copiado.” Alguns amigos têm mania de
tripudiar de nós. Eu: “A carta era de amor. Ela se prestava ao propósito de
conquistar o coração de uma garota.” Lauro: “Ah! Ah! Ah! Cartinha de meu inesquecível amor!” Eu ficava enraivecido. “Você
sabe muito bem porque meu artificio deu zebra.” Lauro: “Sim. Ah! Ah! Ah!”
Odiava a risada dele de mim. Lauro: “O Vitalício, que seria seu cunhado, me
contou que a Zenaide, o nome lembra o de Dulcineia
del Toboso, Ze-nai-de, nome infeliz!” Concordo, a dona do nome era mais
bonitinha que a namorada do Quixote. “Pois é, o Vitalício me contou que a sua
pretendida achou a carta de amor, que você copiou, e enviou a ela, num livro.
Acho que, pouco depois de você ter transcrito a carta, sua irmã, que por acaso
pôs o olho no livro, falou dele ao objeto de sua paixão. Ze-nai-de pediu o
livro As Mais Lindas Cartas de Amor emprestado.
Eis porque não deu à mínima para o seu amor.”
Ele estava certo. Você
não respondeu e nunca mais falou comigo. Sua resposta ao meu pedido de namoro à
sério só veio na forma de um não, quando vi você passar por mim, de mãos dadas
ao Anselmo. Quando a vi várias vezes aos beijos e abraços com o Anselmo. Casar,
ter dois filhos, uma menina e um menino com o Anselmo. Desde então, tem um
bosque que se chama solidão na rua de minha alma.
***
Edson
Lopes é poeta, nasceu em Curvelo-MG, mora em Buritizeiro há 16 anos, onde foi
professor de Literatura, quando existiu. Atualmente, é professor de Português e
autor dos livros Alice no país da mesmice
(2000), Historinhas integrais em prosa e
verso (2015), além de ter participado das antologias Combustível, Metal e Poema (2011) e Antalogia Poética (2009).
Ilustrações:
Vinícius Ribeiro http://pensamentoilustrado.tumblr.com/